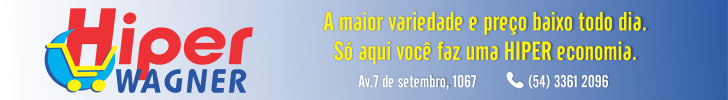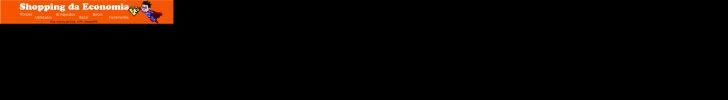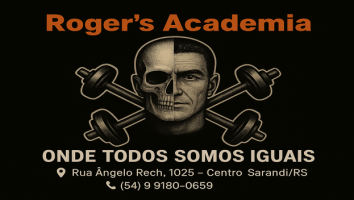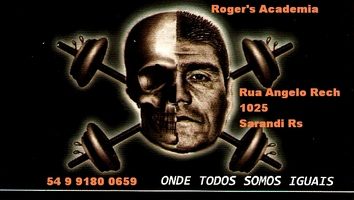Quem são os birivas? Eles ainda existem?
Por Paulistânia Tradicional.
Muito se discute sobre quem foram, e quem ainda são os birivas. Para alguns, o termo seria apenas um sinônimo de tropeiro: aquele que conduzia tropas de muares pelo Sul do Brasil. Com o fim do ciclo tropeiro, acreditam que o biriva teria desaparecido. Mas a realidade é outra, e bem diferente.
 Os birivas não são apenas tropeiros do passado. Eles representam uma identidade cultural viva, enraizada nos campos frios e nas serras do Sul do Brasil. São um povo com traços culturais, folclóricos e genealógicos próprios, forjados na confluência de influências caipiras (de São Paulo e atual Paraná principalmente), indígenas locais (especialmente kaingangs e guaranis), africanas, açorianas, e também dos nossos irmãos culturais: os gaúchos.
Os birivas não são apenas tropeiros do passado. Eles representam uma identidade cultural viva, enraizada nos campos frios e nas serras do Sul do Brasil. São um povo com traços culturais, folclóricos e genealógicos próprios, forjados na confluência de influências caipiras (de São Paulo e atual Paraná principalmente), indígenas locais (especialmente kaingangs e guaranis), africanas, açorianas, e também dos nossos irmãos culturais: os gaúchos.Atualmente os birivas também são chamados de “caboclos”.
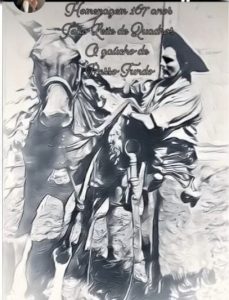
Sr João Quadros – Passo Fundo
Sr João Quadros(Passofundense) iniciou suas tropeadas aos 11 anos de idade
Nos anos de 1.928 a 1.942
As tropeadas saia do RS e ia para São Paulo- Itapetininga
Levavam a boiada e voltavam com burros e mulas.
Vendiam para os colonos italianos do RS.
Os burros e mulas eram os tratores da época
O que significa “biriva”?
Historicamente, o termo “biriva” (ou biriba) aparece com diferentes significados conforme a região e a época. Segundo o Dicionário da Terra e da Gente do Brasil, era uma alcunha usada pelos habitantes do Rio de Janeiro e Espírito Santo para se referir aos mineiros e paulistas, também chamados de “geralistas” ou “baêtas”. A explicação é que os mineiros eram chamados de birivas, pois se tratavam de pessoas de físico e trajes mais robustos, como relatou Nelson da Senna.
Cornélio Pires, grande folclorista caipira, menciona em Meu Samburá (p. 22) que os paulistas são chamados de birivas, pois eram “comedores de formigas”.
No Rio Grande do Sul, segundo o General Borges Fortes, o termo se referia aos habitantes dos campos de Cima da Serra, os serranos, em oposição ao “guasca”, morador da campanha. Ou seja, biriva era o serrano que chegava montado em mula, com sotaque próprio, vindo de São Paulo e Paraná. Roque Callage também reforça esse uso regionalizado.
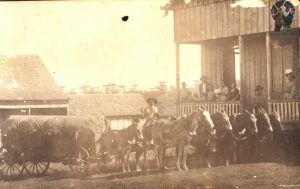 Para Souza Docca, “biriva” significava “homem matuto, desconfiado e melindroso”. Já em outros dicionários, geralmente o define como sinônimo de caipira ou tropeiro, e também como um jogo de cartas.
Para Souza Docca, “biriva” significava “homem matuto, desconfiado e melindroso”. Já em outros dicionários, geralmente o define como sinônimo de caipira ou tropeiro, e também como um jogo de cartas.Uma identidade cultural autêntica:
Os birivas formam a identidade do povo serrano que carrega a herança direta dos primeiros bandeirantes e tropeiros que ocuparam o sul do Brasil. Um dos marcos dessa colonização foi a fundação de Lages no século XVIII pelo bandeirante Correia Pinto, por ordem do governo da Capitania de São Paulo, com o objetivo de criar uma frente de contenção após às investidas castelhanas e estabelecer um corredor seguro até Sorocaba.
Com a decadência do ciclo de muares no final do século XIX, muitos desses antigos tropeiros fixaram residência definitivas nos campos e serras do Sul, vivendo do pastoreio, do extrativismo, da agricultura de subsistência e do pequeno comércio regional tropeiro. Essa população se concentrou especialmente em regiões como Correia Pinto, São Joaquim, São Francisco de Paula, Urubici, Urupema, Curitibanos, Campos Novos, Lages, Coxilha Rica, São José dos Ausentes, Bom Jesus, Lagoa Vermelha e Cambará do Sul, além de outros municípios não citados, hoje formando o coração da cultura biriva.
Uma parte da cultura caipira?
O biriva compartilha traços com o caipira tradicional da Paulistânia. No sotaque, é fácil perceber expressões como “bão”, “caboclo”, “jaguara”, “alimar”, “mió” e “carça”, falas ainda ouvidas nas zonas rurais dos planaltos catarinenses e riograndenses, onde o R retroflexo e a troca do L pelo R em palavras como “Carcanhá”.
A culinária é um espetáculo à parte, e sua base é visivelmente caipira: milho, pinhão, carne de porco, galinha caipira, feijão, quirera, revirado de feijão(feijão tropeiro), angu(polenta), doces de abóbora, compotas, comida em conserva, café de cambona e, claro, o mate, nativo da sua própria região.
A indumentária tradicional também tem suas marcas: chapéus de palha ou de aba larga, calças relativamente justas, botas “russilhonas” ou sanfonadas, ponchos de baeta, faca sorocabana à cintura. O biriva roceiro se veste de forma ainda mais simples, com camisa, calça comum, botina e chapéu.
Religiosidade e folclore
O catolicismo é a base da religiosidade biriva, com devoção especial a Nossa Senhora Aparecida, São Gonçalo do Amarante, São Benedito e ao Divino Espírito Santo, que inspiram festas como a do Divino, as Folias de Reis e as Festas Juninas, todas com forte vínculo à tradição da Paulistânia.
Além do Sebastianismo, presente em figuras como José Maria, um líder religioso extremamente para a cultura biriva.
O folclore biriva é riquíssimo e, infelizmente, pouco lembrado. Suas danças típicas como o fandango sapateado, chico do porrete, o bugio, o chico sapateado, a chula, a tiraninha, a vaneira e a chimarrita têm origens birivas, apesar de hoje serem atribuídas quase que exclusivamente à tradição gaúcha. Ritmos como o bugio, segundo Adelar Bertussi, teriam raízes no cururu paulista trazido pelos tropeiros. Enquanto a vaneira, frequentemente tida como derivada da habanera cubana, pode ter se originado dos batuques afro-birivas, misturando o ritmo do cateretê, viola, rabeca, sanfona e pandeiro.
Como se sabe, os ritmos de fandangos caipiras são idênticos a vaneira, como é o caso do batuque propriamente dito, do recortado paulista, do batidão goiano, e do calango mineiro.
Genealogia: um povo de raízes bandeirantes
Os birivas descendem de famílias oriundas de São Paulo, Paraná e Minas Gerais, muitas das quais remontam à época colonial bandeirante. Sobrenomes como como os Bueno, Camargo, Domingues, Pires, Lara, Pedroso, Taques, Maciel, Quadros, Bicudo, Almeida, da Silveira, Toledo, Antunes, Horta, da Silva, Canto, Carrasco, Peixoto, Siqueira, Alves, Campos, Leite, Moraes, Veiga, Brisola, Vasconcellos, Leme, Lemos, Pinheiro e inúmeras outras famílias de origem colonial bandeirante, são comuns nas genealogias locais.
Identidade abafada, mas viva
Os birivas se espalharam por todo o médio-centro da Região Sul do Brasil, alcançando inclusive territórios da Campanha Gaúcha e norte do Uruguai, onde a sua genealogia é presente, como consequência das longas rotas de tropeirismo e das antigas relações comerciais e culturais entre as regiões platinas. No entanto, é nos Campos de Cima da Serra, onde a identidade biriva melhor se preservou, mantendo-se viva de forma mais autêntica.
Isso se deve, em grande parte, ao fato de que essa região serrana não sofreu, ao longo dos séculos XIX e XX, a mesma intensidade de colonização europeia (principalmente de italianos e alemães) que transformou profundamente os traços culturais do norte riograndense e das Missões. Nessas áreas, os birivas (embora ainda presentes) passaram por um processo de miscigenação cultural, resultando em práticas e costumes mais mesclados. Já nos Campos de Cima da Serra, a rusticidade dos hábitos, da linguagem e do modo de vida se manteve com maior fidelidade às tradições herdadas dos seus antepassados tropeiros.
O biriva serrano é marcado por um temperamento desconfiado, fruto das agruras do clima e do isolamento das paisagens onduladas e geladas que moldaram sua história. Mas, por trás da cautela, revela-se uma alma acolhedora, simples e profundamente hospitaleira. É comum ouvir que “homens que vivem em regiões frias tendem a ter o coração frio”, porém, esse ditado não encontra eco no coração do biriva. Sua simplicidade é daquelas que acolhem com mate quente, conversa boa e respeito silencioso.
Mais do que uma identidade regional, o biriva representa uma maneira de ser e de resistir: marcada pela fé no sagrado, pelo respeito à natureza, pela vivência comunitária e pelo orgulho de manter vivas as tradições dos antigos tropeiros, mesmo que de forma inconsciente. É uma cultura que sobreviveu às modernizações apressadas, a aculturação, guardando no frio da serra a chama quente do verdadeiro folclore.
Hoje, muitos birivas não se reconhecem como tal. Há um abafamento da identidade biriva, tanto por desinteresse local quanto pela assimilação a outras culturas, como a gauchesca ou a de imigrantes colonos. Muitos dos quais são descendentes desses birivas, mas optam por assimilar somente um povo.
Em vez de celebrarem todas as suas origens. Muitos habitantes dessas regiões passaram a adotar identidades únicas, deixando de lado uma cultura autêntica e extremamente rica.
Esse esquecimento reforça uma narrativa distorcida, que reduz a rica diversidade regional a uma única representação cultural oficial.
Mas o biriva resiste. Ele está nas serras, nos campos frios, nas festas religiosas, no sotaque e na comida simples, na casa simples de madeira. Está nas mãos calejadas, nas melodias da sanfona, nos passos do fandango e na fé em Nossa Senhora.
E é símbolo da Paulistânia nessas regiões isoladas.
*Fontes bibliográficas:
ASSIS, Cláudio Salvador de. O Ciclo do Tropeirismo no Brasil Meridional. Florianópolis: Editora da UFSC, 1984.
BERTUSSI, Adelar. Entrevistas e gravações (acervo oral).
BARBUY, Hélio. Famílias Paulistas e o Povoamento do Sul do Brasil. São Paulo: Revista do Instituto Genealógico Brasileiro
SILVA LEME, Luís Gonzaga da. Genealogia Paulistana. São Paulo: Typographia Vanorden, 1903.
ALMEIDA, Paulo Roberto de. Colonização, Tropeirismo e Fronteira no Sul do Brasil. Tese de doutorado – Universidade de Brasília (UNB), 1989.
PIRES, Cornélio. Meu Samburá. São Paulo: Editora Globo, 1927.
CÂMARA CASCUDO, Luís da. Dicionário do Folclore Brasileiro. São Paulo: Global Editora.